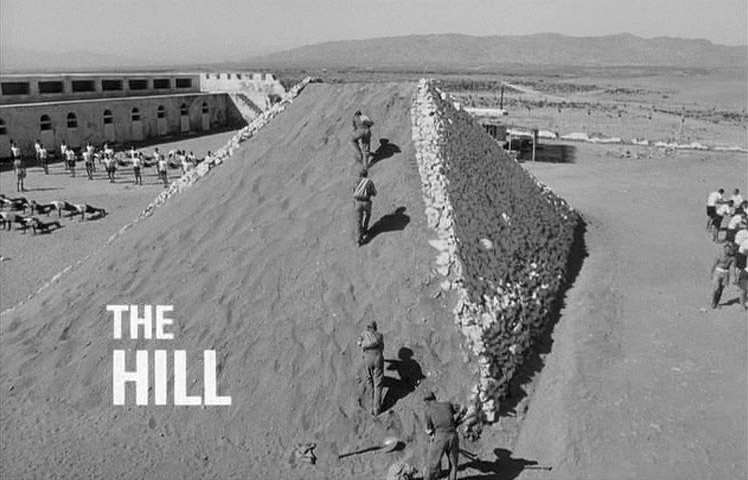REVISTAS
REVISTASAo ler
Merz to Emigre and Beyond: Avant-Garde Magazine Design of the Twentieth Century de Steven Heller, é impossível não nos apercebermos da importância que as publicações periódicas assumem na história do design gráfico.
Também por cá, (e é pena que o livro de Heller não inclua nenhuma revista portuguesa), publicações como a
Contemporanea,
Orpheu,
Civilização,
Panorama,
Almanaque ou
Belém materializam linguagens gráficas e projectos editoriais que, de uma forma ou de outra, estão ligados a
vontades de vanguarda.

Numa conferência recente na ESAD, alguém confessava que não encontrava actualmente nenhuma revista de design com a influência que, no final do século passado, a Emigre exerceu.
Indefectível leitor de revistas que contínuo a ser, fui levado a olhar com mais atenção para as revistas que actualmente tento não perder.
Não vou falar das revistas, passadas, que contínuo a reler ou a rever; essas são muitas, entre as que vou comprando em alfarrabistas e aquelas que conservo e às quais gosto de voltar: numa semana posso pegar nas
Ícon que Jorge Silva desenhava para
O Independente, rever os três números da
Elipse, melhor no conteúdo do que na forma, e recuar aos anos 1960 e à
Ao Largo cujas capas foram dos mais estimulantes
laboratórios de tipografia em Portugal e noutra semana posso reler as paginas dactilografadas da
Raiz e Utopia e divertir-me com as experiências iconoclastas da
Politika ou da
K Capa.

Não vou falar, igualmente, daquelas revistas que, com o tempo, me foram desinteressando. Há casos, como a
Domus, que apenas vejo com atenção números antigos, por exemplo para reler alguns dos textos de Andrea Branzi, tendo pouco interesse pelos números mais recentes.
E, por fim, não vou falar de revistas que me chamaram a atenção mas que conheço muito mal, como a
Conditions, a
Pear ou a
Corridor 8, esta última cujo primeiro número tem coisas interessantes (a começar pelo editorial de Roger McKinley) mas, à excepção das duas páginas centrais, não conseguiu tirar partido do formato. Sobre estas revistas espero, no entanto, acompanhar a sua evolução.


Continuo a gostar da
Cabinet, da
Oase , e da
Log que compro esporadicamente, tal como a
Baseline e, por vezes, a
Grafik, e embora há muito não compre a
Eye ou a
Dot, Dot, Dot procuro-as inevitavelmente na biblioteca da minha escola.
As minhas preferidas, por esta altura, são a
Volume, a minha revista de arquitectura favorita, a
Open Manifesto e a
F.R. David, projecto parente da
Dot, Dot, Dot e da
Metropolis M, sobre a qual Mário Moura, há uns tempos, dedicou um
texto.


Para além destas, há outras, Vou falar um bocadinho dessas. Começando pela
Rosebud. Dela, podemos começar por dizer que é feita na Austria e usa Comic Sans. O projecto foi iniciado há 10 anos pelo designer alemão Ralf Herms que apenas conheço da Rosebud. Cada número é um objecto gráfico autónomo, desafiante e sedutor. Há uns 10 anos comprava a Mutabor que, sendo no conteúdo muito diferente da Rosebud, tinha também essa capacidade de mutação de número para número. Mas aqui, o resultado é mais interessante. Nos primeiros números havia um maior equilíbrio entre conteúdos verbais (pessoalmente sentia, apenas, falta dos textos em inglês) e conteúdos gráficos. A partir do nº 4 a revista tornou-se mais visual, por vezes com soluções mais previsíveis, mas mantendo qualidade. Aguardo receber o nº 7 Rosebud Very Funny!
Acabado de ler está o último número da
A Prior. Se a Rosebud é sobretudo para ver, a A Aprior é para ler, sendo que a qualidade gráfica assegura a melhor das leituras. É feita pelo estúdio de design Belga
Établissement d’en face projects. Nos 11 capítulos do mais recente número (e eu gosto de uma revista que se organiza por capítulos) há coisas como: Chapter V: Literature, drama, performance, grammar, aesthetics ou Chapter VIII: Gymnastics, occultism, theology, philosophy, suicide. Todos os números que conheço são bons e vários (como o #3-4 ou o #15) são muito, muito bons.
Confesso, que por vezes sabe-me bem ler uma boa revista numa outra língua que não o inglês. A
Nada, óptima nos conteúdos e no design, oferece-me essa possibilidade em língua portuguesa, a nova
Artes&Leilões também promete faze-lo e, num registo mais académico, para além de colaborador (como escritor e editor) continuo a ser leitor da
Revista de Comunicação e Linguagens embora reconheça que a sua solução gráfica é desagradável. Em espanhol, gosto de ler a
Atypica, graficamente interessante, com conteúdos que me permitem também perceber o que se vai fazendo na América do sul, embora não a assine e, por isso, dos trinta e tal números tenha meia dúzia é sempre com agrado que a leio.
Gostava que a
Cannon fosse uma revista trimestral que me chegasse à caixa de correio. Mas, de facto, não sei sequer se é uma revista e qual a sua periodicidade. É um projecto parente da Dot Dot Dot ou da FR David, porventura mais radical do que aquelas publicações. Editada por
Phil Baber, cujas cumplicidades com Will Holder são evidentes. As páginas daquele que penso ser o único número publicado foram sendo produzidas e publicadas autonomamente (a primeira foi feita 6 meses antes da última) antes de serem reunidas num objecto acabado (?). No editorial pode ler-se: “In this first issue we will be feeling our way; blind, uncertain, clutching onto what we can find, running with it, tripping up. Starting again. There is no Grand Plan. We will explore the past where it seems fecund, and hail the future when we can conjure it, but all this is with the aim of establishing our position within the continuous present—working out where to stick our flag.”. É caso para seguir como muita atenção.
Das revistas que vou comprando, a
Back Cover é daquelas que parece adivinhar o que eu quero ler. Na altura em que andava a trabalhar os
colaborativistas (Eatock, Paul Elliman, Abake, Metahaven) lá vem a Back Cover com um número particularmente interessante com um diálogo entre Richard Hollis e Abake, trabalhos de Metahaven, Didier Semin e Robin Kinross. Óptimo!